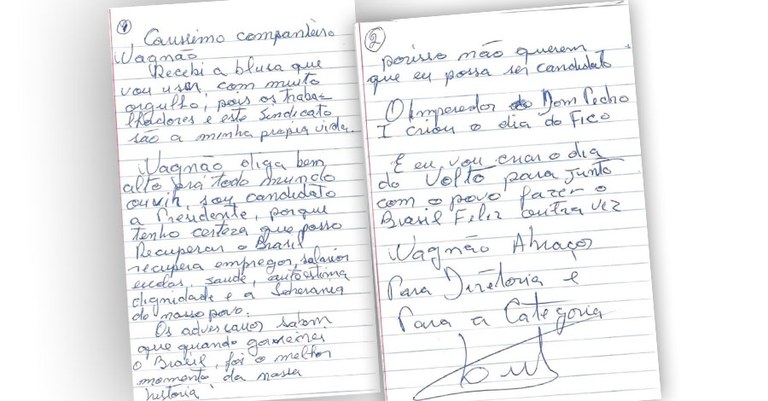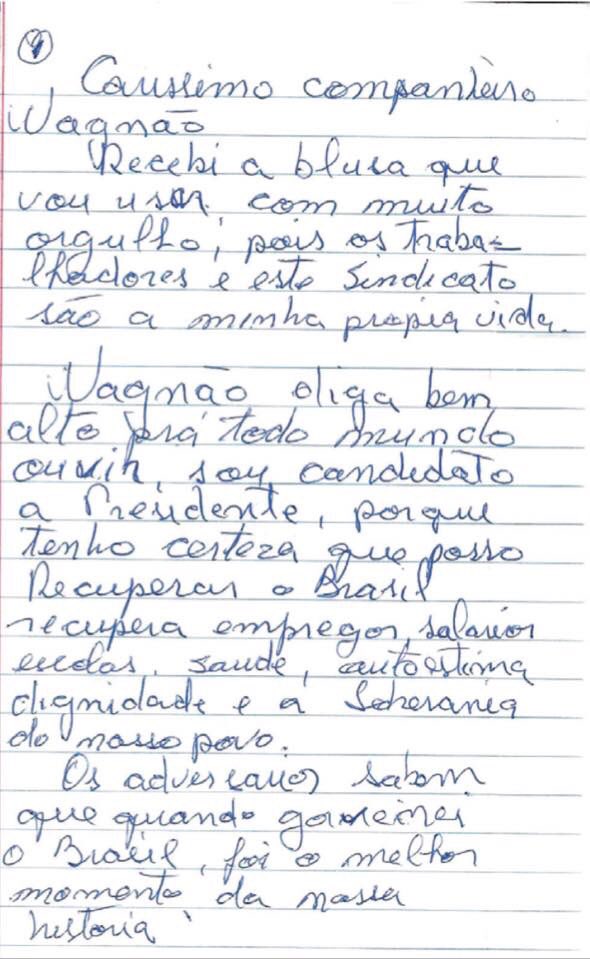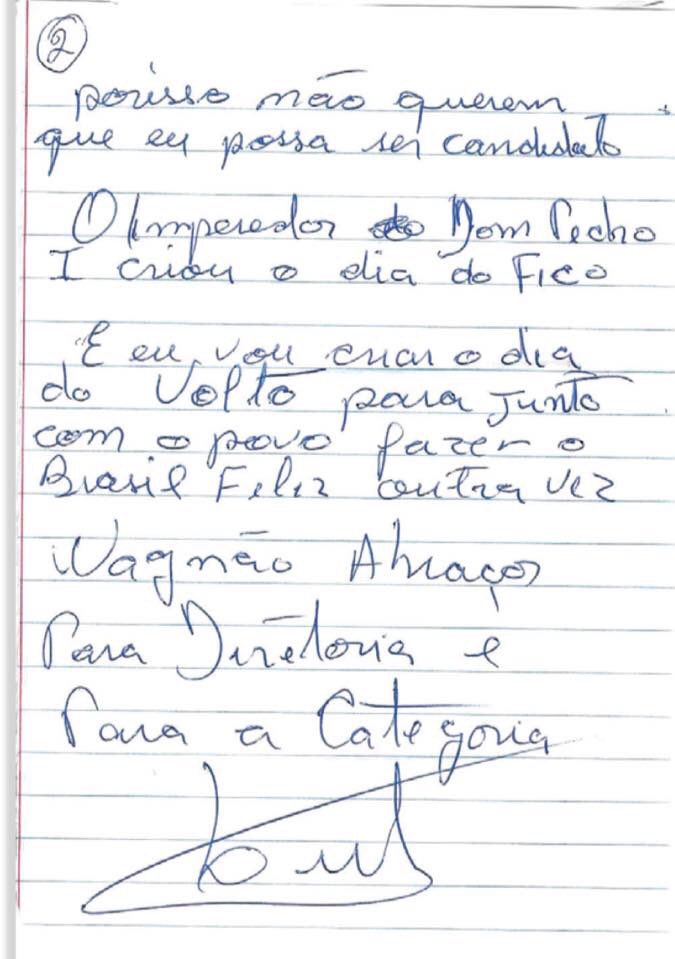Revista Piauí, 27jul2018_12h35
Pode-se argumentar, com alguma razão, que a campanha eleitoral nem começou. Quase nenhum dos presidenciáveis competitivos escolheu seu vice, há muita indefinição e coisas soltas no ar – não se sabe nem mesmo quem vai ser o candidato do PT. Mais do que isso, a maioria da população ainda não se ligou na disputa, o que só costuma ocorrer após o início do horário eleitoral gratuito na tevê. Tudo isso é verdade.
Num sentido mais substantivo, porém, parece claro que a campanha presidencial começou no dia 24 de janeiro, quando três juízes federais de Porto Alegre ratificaram a sentença de Sérgio Moro, deixando Lula inelegível. Condenado em segunda instância, ele se tornou um Ficha Suja. A campanha começou outra vez no início de abril, quando o ex-presidente teve a prisão decretada por Moro. Na mesma época, Cármen Lúcia atuou de maneira decisiva, recusando-se a levar ao plenário do STF a votação sobre a revisão do cumprimento da pena após decisão em 2ª instância. A exclusão de Lula do processo eleitoral foi sacramentada, como diria o filósofo Romero Jucá, com o Supremo, com tudo.
Não era preciso que Moro recebesse o prêmio de personalidade do ano da Câmara do Comércio Brasil-EUA para que se pudesse desconfiar de sua isenção como magistrado. A foto em que aparece posando ao lado de João Doria Jr. – ambos de gravatinha-borboleta, numa cerimônia de gala em Nova York – marca, por assim dizer, o momento do escracho. A imagem é tão eloquente que seria o caso de perguntar se é o pai de Neymar quem está administrando a carreira do juiz. Seja como for, àquela altura, maio deste ano, o serviço já estava feito.
Antes que Deltan Dallagnol me inclua em seu PowerPoint, devo confessar: não estou entre os que veem a Lava Jato como parte de uma conspiração internacional. Nem entre os que não reconhecem seu valor republicano ao combater a impunidade dos donos do poder e do dinheiro no país. Ocorre que a Lava Jato se perdeu no momento em que o colega de festa de João Doria quis transformar Lula em seu preso de estimação.
Quando isso ocorreu? Difícil saber exatamente, mas desde a condução coercitiva, lá atrás, até o protesto esbaforido contra a decisão (ela também estabanada) do juiz de plantão que mandou soltar Lula, há duas semanas, Moro foi corroendo, sucessivas vezes, a imagem do juiz não apenas destemido, mas também imparcial. Como Brás Cubas, ele tinha uma ideia fixa balançando no trapézio de sua cabeça: prender o senhor Luiz Inácio a qualquer preço. Esse roteiro era a maior barbada do mercado de apostas da política brasileira nos últimos anos. De Merval Pereira ao Pato da Fiesp, todo mundo conhecia o final do filme. Quén!
Muita gente que votou em Lula, mas não perdeu o juízo no turbilhão dos últimos anos deve ter chegado à conclusão, ou formado a convicção de que ele não era, nem pode ser considerado inocente diante do assalto em escala industrial praticado contra a Petrobras durante os governos petistas. Os descalabros que as investigações trouxeram à tona eram o preço, por assim dizer, do patrimonialismo de coalizão administrado pelo presidente. Sempre foi assim, dirão alguns. Que seja, mas pouco importa. Esse é um argumento cínico, que não redime nem atenua os crimes do PT.
A despeito disso tudo, convicções não bastam para levar alguém à prisão. Mesmo as convicções de um juiz precisam de base probatória. E o famigerado caso do tríplex é uma tremenda bola dividida. É corrente o entendimento de que essa era a mais frágil das denúncias contra Lula. O próprio Moro, ao responder a um embargo de declaração da defesa (o recurso que permite questionar o juiz sobre eventuais obscuridades ou mesmo contradições da sentença), disse o seguinte: “Este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento da vantagem indevida ao ex-presidente.” Mas era exatamente isso o que a denúncia do Ministério Público dizia: o mimo ofertado a Lula seria a contrapartida da obtenção pela empreiteira de três contratos com a Petrobras, especificando-os. Se o juiz não prova o elo entre uma coisa e outra, assume isso publicamente, mas ainda assim condena o réu, há algo de esquisito. A rigor, o caso nem deveria estar em Curitiba, já que Moro e a Lava Jato cuidavam das investigações envolvendo a Petrobras. Meu raciocínio acompanha o que escreveu Reinaldo Azevedo, insuspeito de ser lulista, que fez a meu ver a crítica mais sólida da sentença. Como ele afirma, nada disso tem a ver com culpa ou inocência, mas com as exigências formais do devido processo legal – que o leitor me perdoe o jargão.
A condenação, nessas circunstâncias, reproduz a gambiarra acionada no impeachment. Dito de maneira brutal: sabemos que Dilma tem que ser derrubada, é preciso inventar um crime. Pode-se até discutir o que é mais grave – se a deposição arranjada (eu ia dizer duvidosa) de uma presidente eleita ou se a prisão duvidosa (eu ia dizer arranjada) de um ex-presidente que lidera as pesquisas de intenção de voto. Mas uma coisa é certa: o componente político, no caso do Congresso, faz parte do julgamento; no dos tribunais, não poderia fazer.
A politização da Justiça e a judicialização da política atingem no affaire Lula o seu ponto mais crítico. Nas palavras do sociólogo espanhol José María Maravall, “a política se torna judicializada quando as cortes se tornam atores políticos, alterando as regras da competição democrática. Tais estratégias incluem o uso das cortes para criminalizar adversários políticos” (a citação se encontra na p. 230 de O Lulismo em Crise, livro recém-lançado de André Singer).
Vistas em conjunto, as duas gambiarras compõem um quadro onde não figuram nem a maturidade das nossas instituições nem a solidez da nossa democracia. Os artistas da nova aquarela brasileira talvez imaginassem estar desenhando um pombo. Criaram um corvo.
Olíder nas pesquisas está preso há quase quatro meses, mas sua popularidade não derrete. Os pobres, que até agora não arredaram o pé de sua candidatura-fantasma, estão mais uma vez atrapalhando o bom funcionamento do país. Sem Lula, o líder de fato, por enquanto, é um candidato de extrema-direita de inclinações fascistas. O nome de Jair Bolsonaro começou a tomar corpo no bojo das manifestações pelo impeachment, nas quais a tentação autoritária era mais forte do que imaginavam alguns tucanos de boa-fé. Ao contrário do que foi dito, a onda de nostalgia do tempo da ditadura militar não estava restrita a franjas pouco expressivas do “fora Dilma”. Aquilo deu nisso.
É tragicômico que a advogada da peça de acusação que depôs Dilma Rousseff tenha se incorporado agora às fileiras do ex-capitão. Não se sabe ainda se Janaína Paschoal será a vice de Jair Bolsonaro – ele disse que espera o “sim ou não da noiva” na conversa que terão segunda-feira. Mas nem é preciso que ela suba ao altar de véu e grinalda. A dança do acasalamento entre os dois está consumada. A doida do impeachment agora decidiu incorporar o papel de mulher sensata no meio da tigrada.
A trajetória de Janaína ilumina – porque avacalha – o arco histórico que vai do impeachment à sucessão: responsável pela sustentação jurídica do teatro parlamentar que levou à queda da presidente, ela acaba nos braços daquele que, ao votar contra Dilma, homenageou o coronel Brilhante Ustra, chefe de um dos principais centros de tortura na ditadura, a mesma que submeteu Dilma a suplícios na prisão. Bolsonaro é o candidato da vingança da barbárie contra a civilização. Janaína Paschoal é sua lady Macbeth.
A deterioração do país vai muito além dos efeitos causados pela recessão brutal que atravessamos nos últimos anos. Enraizou-se na esquerda o sentimento de que as instituições se esvaziaram, de que houve uma desconexão entre legalidade e legitimidade, um divórcio entre o que essas instituições representam hoje e o que deveriam ser numa democracia digna do nome.
Na outra ponta, a extrema-direita em expansão talvez seja o melhor termômetro da crise atual. Parte expressiva de seu crescimento se deve a gente mais despolitizada do que fanática. São pessoas aviltadas pela crise econômica, tomadas por um ódio difuso aos políticos em geral, e ao petismo em particular, em grande medida influenciadas pela inoculação capilar em suas mentes do espírito purificador da Lava Jato. Pessoas, além disso, capturadas pelo medo e pela sensação de insegurança num cenário em que os indicadores de violência são equivalentes aos desastres de guerra.
Mesmo em momentos menos turbulentos, previsões eleitorais são sempre temerárias – tanto mais agora, num quadro de tamanha indefinição e em ambiente tão crispado. Mas vamos lá: não acredito que Bolsonaro, apesar de atender aos instintos mais primitivos do Brasil, vá resistir ao rolo compressor de tempo de tevê, alianças e estrutura política que Geraldo Alckmin conquistou com o apoio do centrão. A adesão do patriarcado da fisiologia ao tucano sugere que o PIB, finalmente, decidiu arrastar suas fichas para um lado da mesa.
Os donos do dinheiro sempre estiveram contra Lula e não querem Ciro Gomes, sobre isso não há dúvida. Mas a verdade é que não sabiam muito para onde correr. A candidatura de Henrique Meirelles não é mais que um conto de fadas. Marina, por sua vez, precisaria mostrar minimamente que tem vontade de vencer a disputa. Sua inapetência é exasperante. Alckmin é quase uma opção da falta de opções, uma espécie de escolhido por W.O. Depois de tudo, há ainda uma boa chance de que a disputa final se trave entre PSDB e PT.
Mas o que acontecerá se o duelo for entre Bolsonaro e o nome que Lula indicar da prisão? Para onde vai o PIB? E se, pelo contrário, as forças aglutinadas em torno de Bolsonaro e de Lula se frustrarem nos próximos meses? A energia social que hoje mobilizam se dissipará? Ou essas tensões deverão explodir nas ruas em algum momento? São perguntas sem resposta, mas que não podem sair do horizonte. O futuro do país está mais turvo do que nunca.
Fernando de Barros e Silva é diretor de redação da piauí desde janeiro de 2012 e autor de Chico Buarque (2004), da PubliFolha.




 Agrotóxicos. Foto: Reprodução/Sindicato Rural de Ibiúna
Agrotóxicos. Foto: Reprodução/Sindicato Rural de Ibiúna