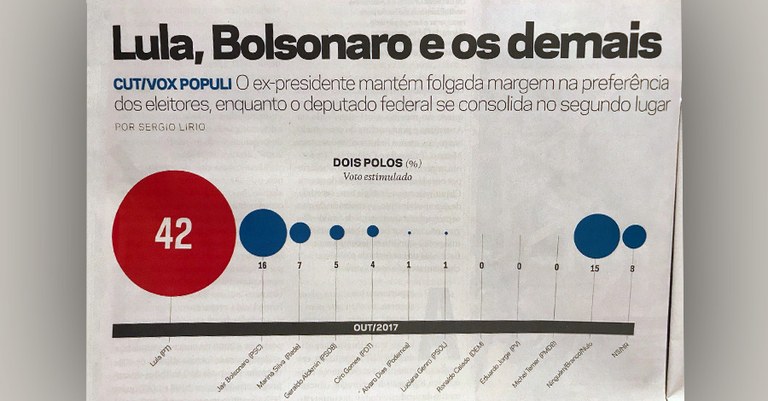Ao longo do século 20 – sobretudo a partir da segunda metade – o conceito de “Revolução” foi perdendo o seu glamour. Aquilo que até então mobilizara multidões e acelerara milhares de corações numa ânsia avassaladora por transformação social se tornara teoria científica, programa partidário e procedimento burocrático (como no caso da URSS, com a estatização da “Revolução”).
Tal processo não poderia fazer emergir outra coisa senão o afastamento das pessoas. Tal como afirma o filósofo Michel Foucault, o esquema de “conversão” à revolução via adesão a um partido que, por sua vez, afirma-se revolucionário fracassou: “Sabemos hoje em dia, em nossa experiência cotidiana, que só nos convertemos à renúncia à revolução. Os grandes convertidos de hoje são os que não creem mais na revolução”.
Daí, afirma o filósofo, a importante tarefa do intelectual contemporâneo: “restituir à revolução todos os charmes que ela tinha no século 19”. É claro que não se trata – quando fala o filósofo em restituição do charme – de atualizar a antiga cartilha revolucionária que foi editada pelos partidos, nem de atualizar as palavras de ordem a fim de capitalizar engajamentos e adesões.
Trata-se, antes, de erguer novas territorialidades, de forçar a emergência de novos povoamentos. Trata-se, então, de novamente tomar posse de uma paixão transformadora, de fazer brotar no próprio corpo, mais uma vez, um devir revolucionário que fora apagado pela burocracia e, consequentemente, pela cristalização dos comportamentos. Por isso, em meu último artigo, elaborei uma crítica à “Revolução” ao mesmo tempo em que conduzi um elogio ao motim – que, inquestionavelmente revolucionário, jamais se permitiria a institucionalização. É no motim que a possibilidade de sermos os artistas de nossas próprias vidas se faz possível.
Simplificadamente, trata-se de resignificar a questão da “verdade”. Com a institucionalização da “Revolução” os partidos e sindicatos se tornaram as vozes da verdade revolucionária. Os que sabiam quais decisões tomar para implementar uma nova sociedade eram os dirigentes partidários e os intelectuais de vanguarda, detentores da grande missão de conscientizar as massas. Cabia, portanto, aos militantes convertidos à causa, a mera obediência. Outro ponto fundamental para o seu fracasso: com os interesses da organização sendo a única prioridade – sobretudo quando comparado aos interesses individuais –, instituiu-se uma grande estrutura de autoridade e hierarquia no interior das instituições revolucionárias. Foi ali que a “Revolução” se tornou uma grande instituição e, como de praxe, foi fundamental que o indivíduo renunciasse à sua individualidade, à sua potência criativa, reconhecendo-se incapaz de encontrar alternativas por si mesmo. O capitalismo produz algo ainda mais perverso, porém extremamente mais bem elaborado e menos perceptível.
Assim, foi neste contexto que as chamadas “instituições revolucionárias” começam a perder a hegemonia sobre as vontades e os desejos individuais. Convictos da verdade que carregavam, da palavra da grande autoridade e afoitos em proferir a forma na qual deveriam agir e pensar as pessoas, o alto escalão revolucionário acabou por desaprender a ouvir.
Foi então que, alheios ao proselitismo partidário, surgiram os movimentos sociais. Foi assim que indivíduos cuja potência de criação até então estivera enjaulada e castrada deram vasão aos seus devires revolucionários, consolidando suas revoluções capilares. Nascia o movimento feminista, o movimento gay, negro, hippie, ambientalista, etc., movimentos moleculares, atuantes na micropolítica que habita uma rua, uma habitação, um bairro, uma cidade, uma família. Movimentos que deixaram de recorrer à cartilha partidária. Movimentos que não visavam o poder do Estado ou o controle dos meios de produção, mas que se colocavam e lutavam contra as instâncias de poder que agiam diretamente sobre as individualidades.
Nascia – ou renascia – o desejo por novas relações socioéticas. Uma forma outra de se relacionar consigo mesmo e com os outros. Formas outras de se resistir à submissão da subjetividade afirmando a diferença. Afirmando aquilo que faz dos indivíduos verdadeiramente individuais. Foucault diz que “nós somos prisioneiros de certas concepções de nós mesmos e de nossa conduta. Nós devemos liberar nossa subjetividade, nossa relação conosco”. Liberar nosso desejo dos moldes já estabelecidos pela máquina estatal.
Neste viés, afirmamos uma guerrilha aberrante, nômade, imediata, molecular e anárquica. Indicamos uma experiência outra que possibilite ao indivíduo a constituição de uma nova política da verdade; verdade que não mais se revela através da objetividade de um método, mas que é pensada e pautada pela liberdade, pela potência e pela coragem de afirmá-la em uma situação de risco.
A experiência proporcionada por tais forças é traçada à luz do desassujeutamento e da recusa absoluta a qualquer tipo de individualidade padronizada. É, definitivamente, o que deveria constituir a ação política. Parafraseando Michel Foucault, não se trata de descobrir o que somos, mas de recusar o que somos. Trata-se da criação de novas formas de subjetividade, de vida; da transformação de si e de como nos relacionamos com o mundo. Trata-se de fundar novos valores, novas condutas, uma nova ética. Trata-se, por fim, de lutarmos contra o governo da individualização.
Antes de tudo, eu lhes digo: na contemporaneidade, a mais urgente das revoluções é aquela que transforma a vida em presença imediata, provocadora e selvagem. Ela não é retórica acerca de como e/ou quem poderá transformar a sociedade, mas de um desbravar o conhecimento que, quando levado ao extremo, acaba por transformar a nós mesmos, acaba por constituir um sujeito ético que, de fato, provoca e inspira o seu entorno.
A transformação do mundo não passa pela idealização e pela promoção de um “outro mundo”, um mundo ideal e perfeito; antes, a transformação do mundo passa pela transformação de si que, por sua vez, recusa as convenções e as morais totalizantes do nosso tempo.
Devemos acreditar na transformação do mundo a partir da transformação do nosso próprio modo de vida; vida que se compromete com uma única verdade, a saber, a verdade que se reflete cotidianamente, que nos toca a pele em plena luz do dia.
Assim, nos parece que a revolução é menos a tomada do poder do que a invenção de novos modos de vida. É a transformação do mundo a partir da conduta, a partir de uma certa “estética da existência”. Exercício estético-militante cujo alvo é a própria vida e cujo objetivo é a transformação refletida de si mesmo a partir de critérios éticos assumidos e praticados ininterruptamente. O estético-militante pratica a liberdade no próprio processo de constituição de si mesmo e, por isso, não deixa de ser um artista; um intérprete de sua própria existência, um inventor de seu próprio modo de vida.
*Ramon T. Piretti Brandão é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e colabora para Pragmatismo Político